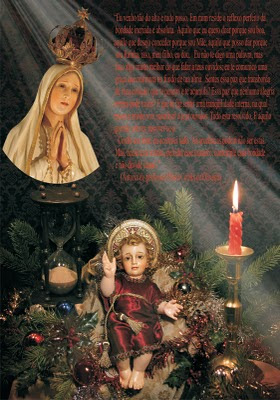Espírito de Natal!
O Natal do Chouan
Nas Margens do Couesnon, nessa região de Fougères que, de 1793 a 1800, foi teatro da epopéia dos Chouans (camponeses do noroeste da França que se insurgiram contra a Revolução Francesa, em defesa do Trono e do Altar), numa noite de inverno de 1795, um destacamento de soldados da República revolucionária seguia por um atalho bordejando a floresta. De ombros caídos, com ar aborrecido e fatigado, vergados ao peso de enorme mochila e da espingarda que levavam a tiracolo, lá iam, conduzindo um camponês que, ao cair da noite, emboscado nos juncos, fizera fogo sobre o pequeno grupo. A bala atravessara o chapéu do sargento e, fazendo ricochete, fora quebrar o cachimbo que um dos soldados fumava. Imediatamente perseguido, acossado, encurralado contra uma escarpa, o homem fora preso e desarmado. Seguia de mãos amarradas, com ar impassível e duro. Os seus pequenos olhos claros espiavam de fugida as sebes que orlavam o caminho e os atalhos tortuosos que se abriam aos lados. Dois soldados levavam enroladas nos braços as extremidades da corda que lhe apertava os pulsos.
Na encruzilhada de Servilliers, o sargento mandou fazer alto: os homens, derreados, ensarilharam as armas, atiraram as mochilas para a erva, apanharam ramos secos, juncos e folhas, que amontoaram no meio da clareira, e fizeram uma fogueira, enquanto dois deles amarravam solidamente o camponês a uma árvore, com a corda que lhe prendia as mãos. O chouan, com os olhos vivos e singularmente móveis, observava todos os gestos dos seus guardas. Não tremia, não dizia palavra: mas a angústia contraía-lhe as feições: era evidente que julgava a morte próxima.
A sua ansiedade não passou desapercebida a um dos azuis (soldados da Revolução) que o amarravam. Era um adolescente franzino, de ar zombeteiro e vicioso. Enquanto apertava os nós, ia troçando da aflição do prisioneiro, naquela fala característica de certos bairros populares de Paris:
- Não te assustes, flor! Não é para já; ainda tens pelo menos seis horas de vida...
- Amarra-o bem, Pedrinho! Não o podemos deixar voar...
- Não se aflija, sargento Torquatus – respondeu o rapaz – havemos de o levar sem novidade ao general. Sabes, cão – continuou, dirigindo-se ao camponês, que retomara o aspecto impassível – não imagines que vais ser tratado como ci-devant (nobres, que em geral eram guilhotinados). A República não é rica, e há falta de guilhotinas; mas hás-de ter tua continha de bons balázios de chumbo; seis na cabeça, seis no corpo. Vai pensando nisso, meu lindo, até amanhã de manhã. Sempre te distrais...
Dito isto, Pedrinho foi sentar-se entre os camaradas, ao pé do fogo. E tirando do saco um pedaço de pão grosseiro, começou a comer tranquilamente. Quando acabou de comer o pão, Pedrinho pôs-se a limpar a espingarda. Escolheu uma bala de calibre e, segurando-a delicadamente entre os dedos, disse ao camponês, que lhe seguia todos os movimentos com o olhar:
- Estás a ver; meu menino? Esta é para ti!
Introduziu-a no cano da espingarda e, a servir de bucha, meteu um papel amarrotado. Todos os homens desataram a rir, e cada um disse uma graça, no prazer maldoso de saborear a agonia do infeliz.
- Tenho aqui uma dose igual para te servi! – gritou um.
- Vais ficar que nem uma peneira... – gracejava outro.
- Eu guardo-me para o fim: uma em cada ouvido! – gritou o sargento. E de repente, enfurecido: - Ah! Canalha de chouan – berrou, aproximando-se dele. – Se eu pusesse matar com um tiro mais mil da tua casta!...
O camponês, silencioso, permanecia calmo sob a saraivada de ameaças. Parecia escutar um ruído longínquo, que os gritos e risadas dos soldados o impediam de ouvir. E de repente baixou cabeça e concentrou-se: do fundo da floresta, subia no ar calmo da noite a voz de um sino, que a aragem dos bosques trazia, clara e ritmada... Quase a seguir, outro sino, mais grave, ecoou do lado oposto do horizonte, e depois mais outro, fino e melancólico, ouviu-se lá muito longe.
Os azuis, surpreendidos, interrogaram-se:
- Que é isto?... Por que é que estão a tocar?... Será um sinal?... Ah! Bandidos! Estão a dar o alarme!
Falavam todos ao mesmo tempo, alguns correram a pegar nas armas. O camponês levantou a cabeça e, fitando-os com os olhos claros, disse apenas:
- É Natal.
- É... o quê?
- É Natal. Estão a tocar para a missa da meia-noite.
Os soldados, resmungando, tornaram a sentar-se em volta da fogueira. E um silêncio caiu. Natal... A missa da meia-noite. Essas palavras que há tanto não ouviam impressionavam-nos: vinham-lhes à idéia vagas imagens de horas felizes, de ternura, de paz.
De cabeça baixa, escutavam aqueles sinos que falavam a todos uma língua esquecida. O sargento Torquatus pousou o cachimbo, cruzou os braços e fechou os olhos como um diletante que saboreia uma sinfonia. Depois, como envergonhado daquela fraqueza, voltou-se para o prisioneiro e perguntou num tom duro:
- És cá do lugar?
- Sou de Coglès, aqui perto.
- Então ainda há padres-curas lá na tua terra?
- Os azuis não chegaram a toda parte, não atravessaram o Couesnon, e daquele lado ainda se vive em liberdade. Estão a ouvir? É o sino de Parigué que está a tocar agora. O outro, o mais pequeno, é o do castelo do senhor de Bois-Guy, e de acolá, mais longe, é o sino de Montours. Se o vento estivesse de jeito, até se ouvia o sino grande de Landéans.
Um dos soldados, Gilles, que permanecera silencioso durante as ameaças feitas ao chouan, ouvia agora com grande atenção e parecia particularmente tocado. Os demais, após um fugaz movimento de ternura, haviam fechado definitivamente seus corações.
Nesse instante, de todos os cantos do horizonte, subia na noite o badalar das aldeias longínquas: era uma melodia doce, cantante, harmoniosa, que ora se ampliava, ora diminuía ao sabor do vento. Gilles, de cabeça baixa, escutava. Pensava em coisas há muito esquecidas; via a igreja de sua aldeia natal, resplandecente de velas acesas, o presépio de grandes rochedos musgosos onde brilhavam lamparinas vermelhas e azuis; ouvia subir, na memória, os alegres cantos de Natal, essas músicas que tantas gerações entoaram, ingênuas loas, tão velhas como a França, onde há pastores, flautas, estrelas e criancinhas – e que falam também de paz, de perdão, de esperança... Ele sentia degelar o coração ao bom calor dessas imagens suaves, de que andava há tanto afastado.
Os sinos ao longe continuavam a tocar. Torquatus determinou que todos fossem repousar, e designou Gilles para a primeira hora de ronda. Em pouco tempo o improvisado acampamento estava montado, e os azuis exaustos daquele dia, e desejosos de esquecer o som daqueles sinos que lhes haviam trazido tantas recordações de uma infância católica e feliz, ressonavam estirados sobre mantas de dormir.
A fogueira crepitava ainda, mas com menos ardor. Só Gilles e o chouan permaneciam acordados. O azul então, com cuidado, procurando não pisar nos gravetos secos que podiam estalar, aproximou-se da árvore onde, amarrado, o chouan o olhava... o advinhava!
- Sabes, disse o soldado quase ao ouvido do prisioneiro, na minha terra fazia-se um grande berço na igreja, punha-se um Menino Jesus lá dentro, ladeado por Nossa Senhora e São José.
E inopinadamente acrescentou: - Queres ficar livre? Eu te solto!...
Mas e tu? Vais morrer em meu lugar? Eles te esquartejam.
- Eu fujo também. Estou farto desta Revolução à qual me levaram a aderir. Minha família sempre foi católica. Em casa, desde a infância aprendi a respeitar o Rei.
- Então vem comigo, respondeu o chouan. – Volta à fidelidade. Eu te levarei a um padre que não fez o juramento revolucionário, para que te confesses. Defenderemos juntos Nosso Senhor Jesus Cristo e o Rei legítimo.
A essa altura, o ex-azul, com uma faca afiada cortava as cordas que prendiam o prisioneiro. Em questão de instantes ambos se embrenhavam na floresta por caminhos que só o chouan conhecia. Os sinos já não se ouviam mais nos ares, mas nos corações daqueles dois homens eles continuavam a tocar. Era Natal!
(Adaptação de um conto de G. Lenôtre, publicado em “Lendas de Natal”, Editorial Verbo, Lisboa, 1966). – Transcrito da Revista Catolicismo de Dezembro de 1989 –)